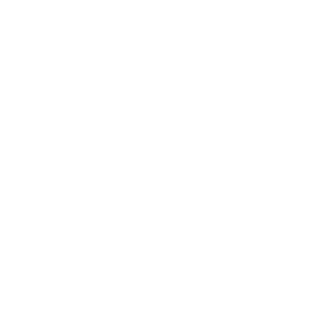
Rita Mayer Jardim
© Expresso Impresa Publishing S.A.
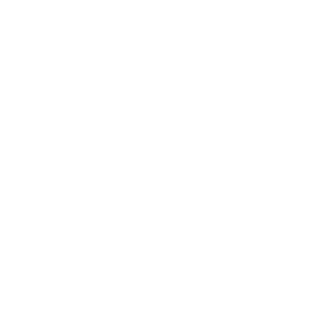
Rita Mayer Jardim
Lei dos sefarditas, R.I.P.
ContactosEmail
Nunca uma lei de nacionalidade portuguesa passou tão drasticamente de herói a vilão como a lei dos sefarditas que, na prática, acabou no dia 31 de agosto de 2022. Quando foi aprovada, em 2015, a imprensa nacional falava em “momento histórico”, “reparação de um erro” e “orgulho”, e a internacional contextualizava a lei com “os milhares de judeus queimados na fogueira”, como escrevia a Associated Press. É claro que Portugal queria ficar bem na fotografia da História. Não só porque Espanha se adiantara, mas também pelo contexto (e o contexto foi tudo, no nascimento e na morte desta lei): a autoestima nacional andava pelas ruas da amargura, desferida pela troika acabada de partir. Não foi por acaso que o turismo judaico foi “eleito nova estratégia de promoção de Portugal”, como anunciava, em 2018, a hiperativa secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.
A lei dos sefarditas foi o passo lógico seguinte de voltar a acolher os descendentes dos expulsos. Quase nada se sabia sobre a prova desta condição — o ser sefardita — que é histórica, cultural e, só por vezes, religiosa
Portugal tinha revogado simbolicamente o decreto de expulsão, em 1996. A lei dos sefarditas foi o passo lógico seguinte de voltar a acolher os descendentes dos expulsos. Quase nada se sabia sobre a prova desta condição — o ser sefardita — que é histórica, cultural e, só por vezes, religiosa. Era preciso aprender a História dos sefarditas, que não estudámos na escola, onde mal aprendemos a lição da Inquisição. Tive o orgulho — não menos que isso — durante os sete anos de vida da lei, de aprender a contar e documentar as histórias de sefarditas que pediram certificados à Comunidade Israelita de Lisboa (CIL). Como a de Joseph, um norte-americano neto de judeus de Rodes, a ilha do mar Egeu que viu florescer a comunidade judaica ibérica atraída pelo sultão otomano Solimão e que depois caiu nas garras nazis, mas não sem antes passar por administração italiana. A bordo do navio “Nyassa”, com largada de Lisboa rumo a Nova Iorque, em novembro de 1940, com seis anos, a mãe deste americano escapava ao destino da família do seu avô e da quase totalidade dos judeus de Rodes. Com a rendição italiana e a chegada dos nazis à ilha, numa só tarde de julho de 1944, os 1673 judeus de Rodes foram embarcados até Atenas, daí metidos em comboios de gado e, três semanas depois, chegaram a Auschwitz-Birkenau, onde foram logo gaseados. A prova desta história não se faz com cartas de rabinos, que são apenas uma peça do puzzle, tão válida quanto as outras. Faz-se com elementos circunstanciais, como o testemunho de o ladino ser a língua dos avós, bem como documentais. Há os registos de nascimento dos pais e avós deste requerente; a inclusão do bisavô nas sepulturas do Cemitério Judaico de Rodes; o passaporte do avô emitido pelo “Governo delle Isole Italiane Dell’Egeo”; um pro-memoria sobre a família, amarelecido e assinado em 1938 perante um polícia “brigadiere de Rodes”; e o manifesto de passageiros do “Nyassa” que os conduziu a um porto seguro. Até hoje, a família recorda-se dos meses passados em Coimbra, em 1940, enquanto aguardavam visto para os Estados Unidos, e da “hospitalidade do povo português.” A forma atabalhoada e enviesada como a lei terminou, sem ser revogada, estragou a fotografia, mas não o facto de, com ela, termos feito História.
Advogada